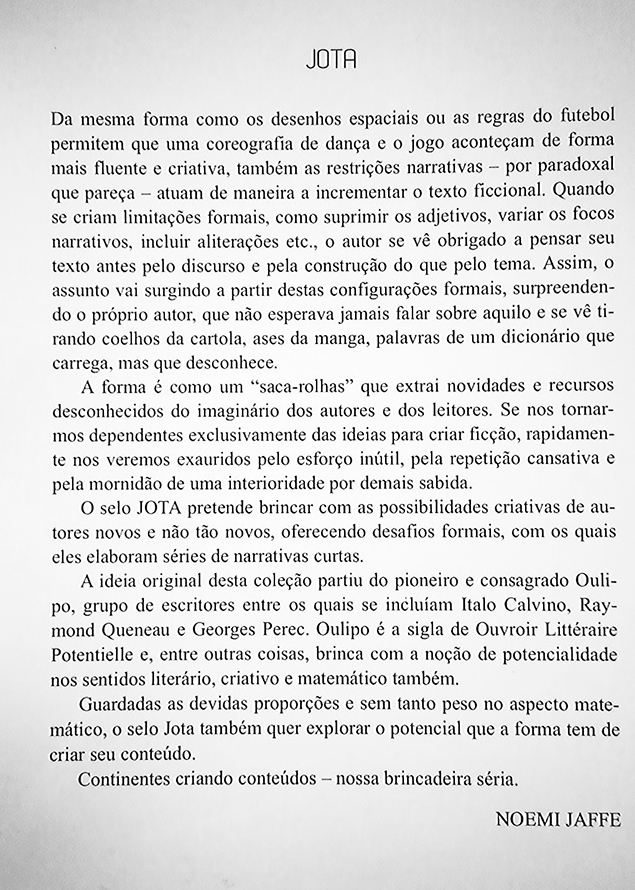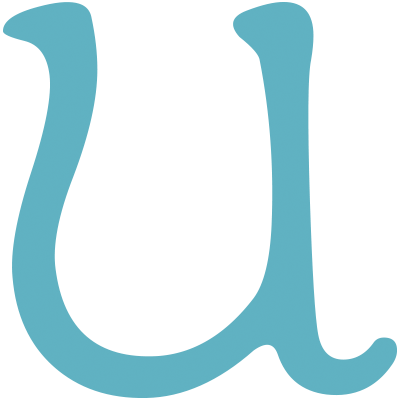“Não preciso fazer muito esforço para me afogar na água ilógica”, diz a mocinha deste escafandro, e do bolso tira um livro: Cabeça de José (Nave, 2014). Pego-o nas mãos; está incrivelmente seco, intacto, e já vem com marca-páginas, indicativo de que será aberto e fechado e retomado inúmeras vezes antes de sua total compreensão, mesmo sendo relativamente curto.
Aí está: um livro que é uma provocação que é um rio que é um alento que é uma porrada que é uma mágica que é um mergulho que é um suspiro que é um objeto de arte e de contemplação que é um encontro com os rios e os risos e as rachaduras do “real”, e que resolve em parte, pela aura mágica & fantasiosa, a sedução sombria, sanguinolenta de Carne Falsa (Editora da Casa, 2013), o primeiro livro da autora.
Patrícia Galelli, 26, é uma catarinense de cabeça complexa, afogada plenamente em água ilógica, em boemia, em vida artística e cultural de Florianópolis (SC) desde que saiu de sua fria e saborosa Concórdia – não de vez, porque ali também sempre pode voltar para a comida da mamãe, ainda bem.
Nascido de um processo de escrita a jato, durante o último verão, o enigmático Cabeça de José (Nave, 2014) é dos mais bonitos e complexos lançamentos editoriais dos últimos tempos entre a nova geração de escritores catarinenses, com as ilustrações e design de Yannet Briggiler.
Acaba de sair da gráfica e do bolso do escafandro de Patrícia. Nessas suas primeiras semanas de recepção aqui no Planeta Terra, decidimos registrar o momento com essa breve entrevista com a autora – em que, mais do que explicar o livro, ela nos convida a navegar com o narrador da história de José, curtindo a viagem com um barco em cada pé.
por KATHERINE FUNKE
Ultralits – (Tua) “Cabeça de José” critica a normalidade aparente, o chimarrão cotidiano, os clichês, as conversas de vizinhos, a exatidão do registro burocrático. Neste contexto, pergunto: de onde veio a inspiração – ou a necessidade – de escrever esta história e já publicá-la, exatamente um ano depois de “Carne falsa”?
Patrícia Galelli – Não sei se veio de alguma inspiração, mas com certeza veio da frustração de não ter sido astronauta ou neurocientista. O processo de criação do livro foi realmente rápido. Eu tinha algumas ideias que rondavam o título “Cabeça de José” e, nesse meio tempo, conheci melhor a Yannet numa conversa de bar e, dessa primeira troca de ideias, fiz três pequenas narrativas que ela ilustrou. Com esse material, o projeto de livro acabou contemplado pelo edital Elisabete Anderle 2013, viabilizando a publicação. Escrevi o livro nas férias de 2014, em fevereiro, e o lançamento foi logo depois, em agosto. Acho que foi um processo fast-book.
Desde quando (percebeste que) caminhas / navegas em águas ilógicas de rio sem sentido? Ou isso só acontece com teu personagem José, hã? Conte um pouco dessas descobertas, que são ao mesmo tempo ontológicas e humanistas…
Sinceramente, acho que sou um pouco perturbada com a vida, com essa coisa insana que é existir. Atrelada a isso, uma incapacidade de análise e de entendimento a respeito sempre me esmaga – e não, não faço terapia, e não faria, porque tenho a sensação que nunca mais conseguiria me livrar do tédio (eu ficaria olhando para o terapeuta por horas sem falar absolutamente nada). Tenho sinceras dificuldades com a ditadura da alegria, da beleza e da virtude – acho tudo uma balela sem tamanho, embora haja, como uma montanha-russa, as subidas e descidas e curvas perigosas dos momentos de riso e depois de leveza, pós-tensão. Como você pode perceber, não preciso fazer muito esforço para me afogar na água ilógica.
Teu livro saiu com prefácio de Luiz Bras. O que isso significou pra ti?
Luiz Bras é das pessoas mais amáveis que conheci. O prefácio dele em Cabeça de José foi muito generoso, reflexo do que ele é, assim, o tempo todo. Mas, apesar de ter adorado o texto, o contato com ele, e também com Tereza, é o que mais significou para mim – sou grata pelas trocas de informações, pela atenção que ele teve comigo e com o José ainda no processo de escrita do livro e pelos comentários importantíssimos que ele fez, antes, sobre o Carne falsa.
Alegrou-me muito ver a tradução para o espanhol, anexada ao final da narrativa, aproximando os hermanos da “cabeza de José”. Pretendes viajar com o livro – Uruguai, Argentina, algo assim?
Gostei muito da tradução para o espanhol, feita pela Eleonora Frenkel, acho que ela conseguiu passar todo o clima espacial e as intenções de ironia do livro. Se pudesse viajar pelas nações vizinhas, minha mochila já estaria à mão. Mas não é tão simples sair por aí, com o livro debaixo do braço, tendo um emprego formal. Ainda estamos, Yannet e eu, estudando as possibilidades para lançar na Argentina, país dela, e no Uruguai. De qualquer forma, o livro já circula por esses dois países em algumas livrarias, bibliotecas e instituições culturais.
Selecionado pelo Edital Elisabete Anderle, do governo do Estado de Santa Catarina, o livro ficou lindíssimo, com as ilustrações e o projeto gráfico de Yannet Briggiler, e a edição da Nave, um objeto de contemplação quase artesanal – pelo duplo da capa e sobrecapa, coladas e sem orelha. Pode contar mais de como foi esse processo – do texto ao livro?
O processo da narrativa escrita e da narrativa visual foi construído meio que simultaneamente. Tanto que as ilustrações não são representações do texto. Elas também questionam, perturbam, permitem outras leituras. Creio que nos permitimos, Yannet e eu, sentir uma com a outra esse universo de Paradoxo, a ilógica, a falta de senso, a espacialidade que tem no livro – como forma de suspensão, de não-pertencimento. Isso se deu também com o projeto gráfico, não foi involuntário. Foi, antes, bastante refletido, quadro a quadro, quase como uma brincadeira de cinema estático.
Fica claro que Discórdia é uma alusão a Concórdia, tua terra natal. O livro também foi lançado lá. Que sensação te deu voltar lá para lançar “Cabeça de José”, um livro ao mesmo tempo mais lúdico e mais maduro do que “carne falsa”, e ainda mais abertamente livre, contracultural, ácido e lisérgico?
Voltei para Floripa, depois de lançar o livro lá, estufada de afeto (e um pouco mais gorda, por causa da comida da mãe). Tenho algumas crises com – lá eu passo frio até na primavera e a água ilógica me faz tomar alguns caldos – , mas faço sempre questão de voltar, de rever as pessoas, de conversar. É um carinho diferente, um carinho de cúmplice, que recebo. Então, acho que posso dizer que ter ido a Concórdia com o José foi mais ou menos como ter aprontado alguma coisa fora de casa e ter passado ilesa, sem levar bronca nenhuma – acho até que já deixei esquematizados a fuga e o esconderijo se essa minha “travessura” der muito errado.
“José não tem sobrenome, é um cidadão com outras preocupações.” Só esta pequena frase já soa como uma grande paulada na cara da tradição (família, instituições, propriedades), mas contra ela já fala também toda a linguagem escolhida, “fora do mundo, bagunçando sem parar a direção da correnteza dos rios”. Quando tens de falar no teu cotidiano com(o) as pessoas de “cabeça exata” , no seu trabalho pragmático de jornalista pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, como é que fica tua cabeça? (Não quero te mandar para o analista, só quero entender um pouco de como administra as coisas aí dentro, afinal às vezes por aqui também passo por paradoxos semelhantes).
Se o analista que você citou tivesse poderes telepáticos, eu toparia ir, porque a pergunta é complexa. Seria mais fácil se alguém entrasse na minha cabeça, reorganizasse os pensamentos e respondesse isso. Mas bem, na maioria das vezes tenho breves colapsos nervosos com os “baratinhos” da burocracia e com a importância dada a coisas sem importância que empacam o desfecho do que realmente importa (hehe). Aí posso mapear o processo do que ocorre comigo, resumidamente, assim: i) “emputecimento”, com cenas fortes – tipo “meu mundo caiu”; ii) reclamações irônicas em voz alta; iii) minuto de silêncio iv) constatação imediata de que estou sendo idiota; v) respiração profunda; vi) emissão de desafio para o sistema nervoso central, com o alerta: “acalme-se, acalme-se, acalme-se!”; vii) outro minuto de silêncio e viii) volta à noção básica de que tem coisa mais importante pra me chatear na vida.
Se pudesses escrever uma resenha sobre teu próprio livro, o que não deixaria de dizer?
Acho que daria um spoiler: diria que, para lidar com a correnteza dos rios da cabeça de José, é melhor seguir a ideia do narrador e calçar um barco em cada pé.
–
esta entrevista foi publicada originalmente em 12/nov/2014, na revista Ultralits